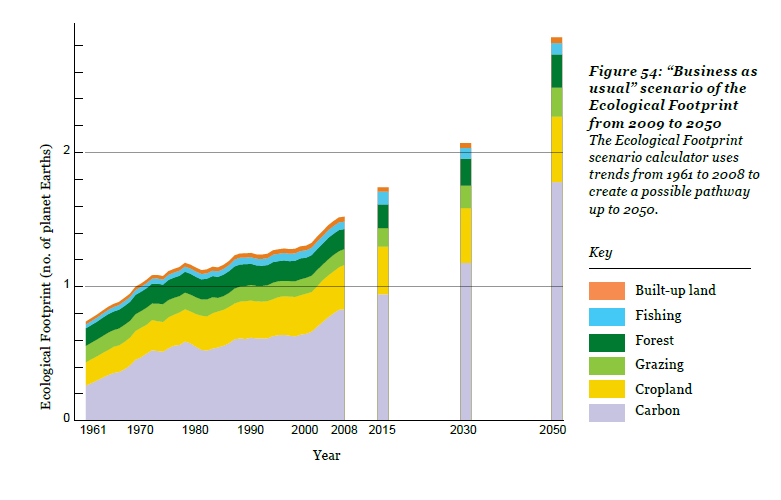PARA UMA TEORIA DE GOVERNO – DE ESQUERDA
Por: Lúcio da Costa (Advogado) eLuiz Marques (Professor de Ciência Política da UFRGS)
Com a proximidade das eleições municipais assistimos à febril busca por alianças políticas com motivos pragmáticos, para expandir a receptividade do eleitorado e o tempo de propaganda na TV. Em Porto Alegre, a gincana do PDT e do PC do B pelo apoio do PP tornou-se o principal assunto dos noticiários. A estranheza midiática em face das investidas publicizadas mira a centro-esquerda, como de praxe.
Quanto ao PT, se este não logra ampliar as siglas existentes em torno de suas proposições, atribui-se a dificuldade a um atávico “radicalismo”, sem aludir ao fato de que, sozinho, representa 60% das identidades partidárias, aferidas de um percentual de 48% dos que declaram uma preferência política nacionalmente, de acordo com o instituto Vox Populi (Marcos Coimbra, “A força da imagem do PT”, Carta Capital, 30/05/2012). A enfadonha lenga-lenga sobre o isolamento petista repete-se em São Paulo “como língua de formiga”. Não existe, porém, é como se existisse.
As composições sem nitidez ideológica caracterizam a política desde a “Carta ao Povo Brasileiro”, assinada por Luis Inácio Lula da Silva (22/06/2002), no início da caminhada vitoriosa do ex-metalúrgico à Presidência em que fazia a apologia de uma “vasta coalizão, em muitos aspectos suprapartidária” visando “abrir novos horizontes para o País”. Diante do que, cabe perguntar se permanece viável uma teoria de governo – de esquerda, tendo por assoalho o aprofundamento da soberania popular. O presente texto tenta responder à indagação com uma esperança militante no futuro.
A razão das alianças
Com o processo de redemocratização do País e a consequente revitalização do papel das instituições parlamentares (Câmara de Vereadores, Assembléias Legislativas e Congresso Nacional), a questão da governabilidade ganhou centralidade na agenda política à medida que o ato de governar do Executivo passou a depender de uma negociação com o Parlamento, em cada esfera federativa.
A situação, comum aos regimes democráticos, seja sob o parlamentarismo, seja sob o presidencialismo, no Brasil é agravada porque as eleições majoritárias são dissociadas das eleições proporcionais, estimulando um quadro esdrúxulo onde o candidato a um posto executivo pode receber 70% dos votos e, apesar disso, contar com uma base de sustentação em minoria nas casas parlamentares. O problema resulta das distorções do sistema de representação política no Brasil, herdado da ditadura militar e referendado pela Constituição de 1988 que não fez a junção.
Não é o único óbice ao sistema de representação política em vigor.
Este limita em 8 o mínimo e 70 o número máximo de representantes na Câmara Federal por unidade da Federação, e em 3 o número de representantes o Senado. Com o que, rompe o princípio republicano baseado em “cada cabeça, um voto” para compor o coral legiferante da nação brasileira, fazendo com que o voto de um cidadão do Acre seja equivalente ao voto de 15 cidadãos gaúchos e 35 paulistas, em flagrante violação do primeiro mandamento da República: assegurar a igualdade formal de todos perante o Estado.
Assim como necessitamos de uma Reforma Política e Eleitoral que institua o financiamento público de campanha, a fidelidade partidária e o voto em lista para fortalecer os partidos políticos e seus respectivos programas na consciência do eleitorado, necessitamos também de uma Reforma do Sistema de Representação Política. Do jeito que está, a nação condena-se a um estágio institucional nebuloso em que já não se reconhece como uma Monarquia, mas ainda não ousa chamar-se de República. Chafurdamos em um hibridismo político.
Aos que contra-argumentam que os mecanismos casuísticos inscritos na Carta Magna bloqueia o afã hegemonista de São Paulo na definição dos rumos da política nacional é preciso lembrar que tal poderia ser levado a cabo pelo Senado, o local apropriado para o debate sobre temas federativos. Bastaria que os senadores dos estados menores se unissem para que SP não pudesse impor de maneira unilateral a sua vontade. No que concerne à Câmara dos Deputados, esta deveria contemplar a representação política proporcional do conjunto da população – sem tergiversações.
Os Estados Unidos contam com um modelo bicameral em que a Câmara Baixa é eleita em moldes tendencialmente proporcionais, enquanto a Câmara Alta é eleita por uma representação por área territorial. Há que ressaltar a diferença, embora as engrenagens de escolha dos representantes estadunidenses sejam talhadas pela lógica mercantil nas competições eleitorais. Para se ter ideia, a propaganda televisiva (que envolve recursos vultosos) fica a cargo da tesouraria dos candidatos, o que condiciona a representação possível pela exclusão das agremiações avessas ao status quo. Nesse quesito, possuímos dispositivos mais equânimes. Contudo, a equação final conduz por igual a uma intransponível maioria conservadora, reiterada pela ação interveniente do poder econômico através do financiamento privado de campanha.
Prevalece o vetor da democracia de massas, a saber, a desideologização da política com o objetivo de sinalizar uma assepsia de classe para justificar a opção por políticas de subordinação ao capital, diminuir a resistência das elites econômicas e magnificar, com a ajuda do marketing político, a receptividade das propostas em todas as camadas sociais. Muitos transformam a necessidade produzida pelas “regras do jogo” em uma suposta virtude, em um atestado de abertura à pluralidade para diferenciar-se dos que são considerados sectários, radicais. Interpretam a conjuntura na defensiva, substituindo o “partido-ônibus” que transportava as oposições durante o bipartidarismo pela “coligação-ônibus” no intuito de assegurar a governabilidade.
Nessa moldura, as coalizões partidárias se realizam, não como contingência, mas como um imperativo filosófico para desembocar em uma indigesta, indecorosa e incompreensível sopa de letrinhas.
Não obstante, incontornável para evitar golpes do tipo daquele que, em Gravataí, foi armado com oportunismo e cinismo pela direita.
Urge que os movimentos sociais, os sindicatos e os partidos políticos do campo democrático e popular absorvam essa discussão em sua plataforma de reivindicações, erguendo a bandeira de uma Reforma do Sistema de Representação, ao lado da bandeira por uma Reforma Política e Eleitoral, para que a governabilidade não dependa do toma-lá-dá-cá, cujo famigerado ícone encontra-se nas emendas parlamentares individuais, sob a batuta do fisiologismo e do clientelismo. A “crise da ética na política” é fruto do bumerangue de favores materiais e conquistas simbólicas que compensam com o prestígio político a ausência de fidelidade partidária.
Se a luta para reverter tamanha subalternidade da política não ganhar as ruas, não há chance de vitória. Entre nós, a democracia política só poderá ser qualificada pela, democracia participativa, com a participação direta da cidadania organizada, o que tem sido com razão enfatizado por Maria Victoria Benevides (Cidadania ativa: referendo, plebiscito, iniciativa popular, 1991).
As figuras do governo
O governo central é uma parte do poder e está submetido a normas constitucionais anti-republicanas, que rebaixam a grande política aos desvãos da pequena política e dos interesses privados no aparato administrativo. De resto, abrindo caminho às ações ilícitas, de corrupção, que assaltam o Erário. Vale acrescentar, agora, que o governo move-se no âmbito de uma concepção liberal de Estado, construída sobre o equilíbrio entre os três poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário) preconizados por Montesquieu a partir de observações sobre o Reino Unido após a Revolução Gloriosa, no século 17. Instituições tipo os Tribunais de Contas, os Ministérios Públicos e outros órgãos de controladoria vieram na esteira para robustecer os ideais republicanos. Em priscas eras, justapostos aos anseios burgueses de representação nas Cortes monárquicas.
A esmagadora maioria dos países organiza-se tendo por inspiração a “teoria da separação de poderes”. A relação dos governados com os governantes foi regulada pelo sufrágio universal com a inclusão dos não-proprietários, das mulheres, dos jovens e dos analfabetos.
Diga-se de passagem, para gáudio do autor de As veias abertas da América Latina, Eduardo Galeano, o Uruguai foi o primeiro país a estender o voto às mulheres. Todos os direitos políticos (recorde-se a luta pela liberdade de expressão e organização no cenário mundial) foram produto de lutas, suor e lágrimas, nunca benesses dos dominadores. Para institucionalizar essas batalhas havia três poderes originalmente. Outros, no entanto, se desenvolveram nas sociedades modernas.
O enquadramento em uma realidade poliárquica – em que a soberania abarca um amplo rol de centros de poder na coletividade – confunde-se com o que denominamos democracia na contemporaneidade. Aliás, “democracia delegativa”, como apontou o politólogo argentino Guillermo O’Donnell, por converter depois das eleições o presidente e sua equipe na ômega da política. No mais, com total indiferença aos aportes do Congresso, dos partidos políticos e das organizações civis, fazendo os eleitores pós-pleito retornarem à condição de espectadores passivos do desenrolar político.
O ponto é: a democracia na acepção liberal clássica esgota as possibilidades de exercício da soberania popular? A participação da cidadania deve contentar-se com o voto em uma urna de quando em quando, sem avocar um poder decisório que extrapole a teoria da separação de poderes convencional no interregno dos períodos eleitorais? O teto da democracia exclui as iniciativas populares? O Estado de direito (estático, por definição) deve sufocar o Estado democrático (em movimento, por natureza)? A luta pela justiça deve render-se à ordem legal discricionária, em lugar de reinventar a distribuição de direitos políticos, sociais e econômicos na sociedade?
A resposta para todas essas indagações é “Não”. A soberania popular é o “trem da história”, no dizer de Alex de Tocqueville, que objetiva a emancipação social em face das estruturas de dominação.
A Comuna de Paris (1871), de curta duração mas de longo aprendizado para a narrativa emancipacionista, trouxe a prova de que a soberania popular não pode ser restringida a um ideário representativista. A democracia não suporta desacelerações em sua marcha. Ou anda ou pára.
É verdade que governos totalitários (Alemanha hitlerista, Itália mussolinista) e autoritários (França gaullista) lançaram mão de referendos e plebiscitos para recrudescer um poder monocrático e repressivo, na Europa. A democracia participativa, porém, não pode ser recriminada pelas manipulações que caracterizaram seu uso e excessivo abuso no hemisfério Norte. No hemisfério Sul, a democracia calcada na cidadania ativa que persegue os chamados direitos de primeira geração (políticos e civis) mas também os direitos de segunda geração (sociais), não tem feito a promoção demagógica e personalista do establishment. Os rótulos de “populistas” lançados aos expoentes da onda democratizante na América Latina não fazem jus aos fatos.
No Continente latino-americano socializa-se a distribuição do poder com considerável independência em face da influência dos agentes do dinheiro (com destaque para a Venezuela e a Bolívia). Os sujeitos sociais que se descobrem partícipes das deliberações que afetam as múltiplas dimensões da vida coletiva estão menos afeitos às determinações dos poderosos. Possuem mais autonomia para formular juízos.
Nascido no Brasil, a esperança suscitada pela experiência do Orçamento Participativo justifica-se. O OP traduz uma estratégia de consecução do poder em sociedades tidas por democráticas, em um ambiente politico não-revolucionário. O OP transfere a “guerra de posição” gramsciana para o interior do próprio aparelho de Estado, ao discutir a distribuição e aplicação dos recursos públicos com critérios igualitaristas, combatendo as desigualdades sociais e urbanas que formam cidadãos de primeira e segunda classe no sistema-mundo. Sob esse aspecto, constitui-se em uma pedagogia de politização e conscientização, logo, em uma formidável estratégia de construção de uma contra-hegemonia socialista.
A esquerda tem aprofundado o conceito de soberania popular, gerando um novo centro de poder por intermédio da participação presencial da cidadania nos debates de interesse público. Conselhos, colegiados, mesas redondas, conferências compõem com o OP uma forma inovadora de gestão por assimilar na esfera pública contingentes da população que antes não tinham vez nem voz. Trata-se de uma socialização da política que, para os ideólogos liberais, seria predicado exclusivo dos representantes eleitos no reduto do Parlamento municipal, estadual e federal.
Ainda reverbera a afirmação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por ocasião da greve dos petroleiros na década de 90, de que aquele movimento era “político”. Afora defender uma pauta trabalhista opunha-se à privatização da Petrobrás, pretendida pelo tucanato. Quer dizer, metia o bedelho em um tema da ordem do político, atinente ao Congresso e não às ruas. Dito o que, ato contínuo, FHC reprimiu com tanques das Forças Armadas o movimento paredista.
A figura do governo implementada pelas correntes de esquerda, em distintos níveis administrativos, aponta para a superação da teoria dos três poderes pela inclusão da participação direta mas também da participação digital, aproveitando as novas tecnologias de comunicação. Com a extensão da soberania popular, organizada pelo princípio do igualitarismo, a concepção liberal de Estado dá lugar a uma concepção socialista de Estado. As tensões decorrentes com a dinâmica do capitalismo são evidentes no dia a dia da administração, em cada área de atuação governamental.
O que confere caráter socialista ao Estado é a mobilização social e a repartição do poder de decisão por parte dos titulares da representação na gestão pública. Noutras palavras, para articular uma teoria e uma prática de governo – de esquerda – há que ter coragem política para transcender as herdadas distorções da representação política e os perversos limites da institucionalidade, de modo a sedimentar no povo uma nova subjetividade: emancipacionista, rebelde, militante.
O Rio Grande do Sul integra essa marcha libertadora, dá testemunho Carlos Pestana (“E agora?”, Zero Hora, 14/06/2012), Chefe da Casa Civil do governo Tarso Genro. No RS, “os poderes Executivo e Legislativo, aliados aos setores organizados da sociedade civil, uniram suas forças para conceber uma nova visão de Estado (grifo nosso), pautada pela promoção do desenvolvimento econômico e social com maior distribuição de renda e pela maior participação social na administração pública”.
Conclusão: é hora de avançar
Alianças amplas não impedem a configuração de um governo de esquerda. A ausência de instrumentos de participação e deliberação ao alcance da sociedade civil, sim. Como escreve Marta Harnecker (Cinco reflexões sobre o socialismo do século XXI, 2012), retomando a crítica de Che Guevara ao paradigma stalinista: “Não pode haver socialismo sem planejamento participativo”. A frase resume uma aguda crítica ao planejamento burocrático / tecnocrático em uma sociedade virtuosa, onde os interesses gerais se sobreponham aos interesses particulares. A premissa é válida para todo governo que tenha o firme propósito, no exercício do mandato, de enfrentar as desigualdades provocadas pela gramática da acumulação capitalista. A ampliação das prerrogativas da soberania popular permite que esse combate se realize com uma alta densidade democrática.
O poder instituinte popular pode criar novos regramentos nas relações sociais e econômicas, sendo que ao manifestar-se reatualiza a democracia frente às questões de inegável interesse coletivo, mesmo fora do calendário eleitoral e mesmo que implique alterações no plano jurídico-legal. A mobilização que legitima e sustenta o poder instituinte popular na sociedade, em simultâneo, politiza a economia ao confrontar suas diretrizes com as demandas civilizatórias das classes trabalhadoras.
Aqueles que recusam essa possibilidade para evitar a “insegurança jurídica” estão, na verdade, cerceando a liberdade de problematização e crítica aos entraves para o avanço do trem da história. Se tivessem o cuidado de ler o artigo 2° da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, (citado por Vladimir Safatle, em A esquerda que não teme dizer seu nome, 2012), documento em que os jacobinos registram metaforicamente a certidão de nascimento da modernidade, veriam que a “resistência à opressão” é um direito inalienável dos indivíduos e dos povos.
Ao invés de temerem a soberania popular, por extensão a política, deveriam temer a morte da liberdade. – Avante!
Junho/2012